Por Maria Inez Auad Moutinho, conselheira federal

A 48ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ) deu início à sua programação com minicursos de alto nível. Um dos destaques foi o curso “Toxicologia Ambiental e Análise de Risco Químico”, ministrado pela Dra. Joyce Cristale, professora do CPQBA – UNICAMP. Química de formação, a pesquisadora possui doutorado em Química Analítica e realizou pós-doutorados na UNESP, UNICAMP, USP e na Universidade de Nebraska (EUA), reunindo vasta experiência em avaliação de riscos associados a substâncias químicas.
A crescente demanda na aplicação de determinadas substâncias químicas potencialmente tóxicas utilizadas nos vários segmentos das indústrias químicas e suas consequências nas alterações das condições ambientais e na saúde humana, como: agentes adesivos, agentes branqueadores, agentes de limpeza e aditivos, agentes de pigmentação, agentes complexantes, inibidores de corrosão, cosméticos, explosivos, fertilizantes, retardantes de chama, aditivos alimentares, combustíveis, aditivos hidráulicos, materiais de isolamento térmico e acústico, monômeros e copolímeros, químicos laboratoriais, lubrificantes, agentes oxidantes, produtos agrícolas, biocidas, produtos farmacêuticos, tensoativos, solventes, absorventes e adsorventes.
Os efeitos ambientais agudos chamam mais atenção por serem de natureza imediata, possuem maior facilidade em se estabelecer uma relação entre causa e efeito, sendo, dessa forma, mais fácil o reconhecimento das situações de risco envolvidas e as possíveis formas de prevenção. Do contrário, tais cenários não existem nos efeitos crônicos, exatamente por eles chamarem menos atenção, ainda que possam ser mais significativos, por se manifestarem a médio ou longo prazos. São difíceis de se estabelecer uma relação entre causa e efeito e, consequentemente, o delineamento da situação de risco ambiental.
Diante desses desafios, destacamos a atuação dos profissionais da área da Química como protagonistas principais na avaliação do potencial risco ambiental das substâncias químicas, visando à preservação e mitigação de possíveis danos ambientais. Nessa abordagem, o tripé identificação do perigo, avaliação da exposição e dos efeitos conduz à efetiva caracterização do risco ambiental, que consiste na estimativa da incidência e gravidade dos efeitos adversos que podem ocorrer em uma população ou compartimento ambiental, em virtude da exposição a uma determinada substância, podendo inclusive considerar, na estimativa do risco, a quantificação da sua probabilidade. No caso de a concentração ambiental ser percebida acima da concentração do efeito não esperado, fica caracterizada a alta probabilidade da ocorrência de efeitos adversos.
A identificação do perigo consiste em identificar os efeitos adversos provocados por uma substância de forma intrínseca. Para tanto, deve-se reunir e avaliar os danos produzidos por uma substância química, bem como as condições de exposição pelas quais os danos ambientais, lesões ou doenças ocorreram. Nesta etapa, ainda deve ser caracterizado o comportamento da substância em um organismo, seus efeitos letais ou crônicos em órgãos, células, material genético e metabolismos envolvidos. Faz-se necessária uma investigação preliminar que defina as substâncias envolvidas e os tipos de efeitos que podem provocar aos humanos e ecossistemas envolvidos.
No que se refere à avaliação da exposição, o profissional da área da Química estabelece metodologias de medição da concentração das substâncias químicas em suas diferentes formas de utilização e as vias de exposição ambiental, como água, ar, solo e alimento. Deve-se, inclusive, caracterizar aspectos como mobilidade, transformação ou degradação da substância no meio ambiente; estimar as populações e compartimentos ambientais expostos; bem como os aspectos ambientais que podem afetar o seu comportamento no meio ambiente, com destaque para os aspectos climáticos, geológicos, hidrológicos e bióticos.
Nesta etapa do estudo da toxicologia, deve-se promover um intenso monitoramento de contaminantes no meio ambiente, buscando a identificação dos tipos de fontes de poluição (urbana, industrial e agrícola; contínuas e instantâneas), da concentração ambiental da substância, dos fatores que afetam a distribuição pontual ou difusa desses contaminantes, como se comportam ambientalmente e os organismos que podem ser afetados nessa exposição. Todas essas informações são obtidas mediante metodologias analíticas estabelecidas previamente.
Sabe-se que a distribuição das substâncias contaminantes no ambiente é determinada por suas propriedades físico-químicas e pode ser influenciada pelas condições ambientais do sistema. Dentre as propriedades que devem ser analisadas na substância em estudo, destacam-se: solubilidade em água, volatilidade/pressão de vapor, hidrofobicidade com a determinação do coeficiente de partição octanol-água (log Kow), constante de ionização, fator de bioconcentração (BCF), frequentemente calculado considerando a concentração do contaminante no tecido de um organismo aquático, bem como o fator de biomagnificação e a capacidade de sorção (envolvendo principalmente a adsorção e a absorção), após a determinação da constante de partição (Kp), com o equilíbrio da concentração da substância poluente em um sólido (solo, sedimento ou material particulado), que, por sua vez, depende da composição da partícula, do teor de carbono orgânico, do pH, da capacidade de troca catiônica e de condições ambientais (temperatura, REDOX e salinidade, como exemplos). Enquanto isso, as propriedades do ambiente se voltam para o pH, a salinidade, a temperatura, a composição dos solos e sedimentos, bem como a tendência do contaminante de se deslocar de regiões de alta fugacidade para regiões de baixa fugacidade, até que o equilíbrio seja estabelecido em toda a região ambiental atingida.
Outro aspecto de forte impacto ao longo da avaliação de exposição é a possibilidade da ocorrência de processos de transformação do contaminante com estrutura mais complexa em substâncias menores ou a sua mineralização, relacionada ao conceito de persistência, cujo monitoramento ocorre com base no tempo de meia-vida (t½) da substância química, para a redução de sua concentração em 50%, sem relação dependente com o seu grau de toxicidade. Tais transformações podem, inclusive, produzir subprodutos menos ou mais tóxicos, e o mecanismo pode ser via hidrólise (geralmente catalisada por íons H+ e OH–), degradação fotoquímica e/ou biodegradação. Nesta última via, a taxa de transformação do contaminante deve levar em consideração a taxa de crescimento e o conteúdo enzimático da comunidade microbiana.
Dessa forma, é imprescindível o monitoramento dos possíveis contaminantes no ambiente de interesse, que é uma das formas de se avaliar a concentração/dose a que os organismos estão expostos, pois permite avaliar a exposição dos organismos às substâncias químicas potencialmente perigosas, possibilitando, assim, estudos de avaliação de risco. No contexto da avaliação de risco, o efetivo monitoramento envolve a elaboração de um plano de amostragem com definição dos pontos de coleta das amostras, do número, dos parâmetros analíticos a serem investigados e da frequência das amostragens. Em uma etapa posterior, a obtenção das análises laboratoriais das amostras, com o correto preparo da amostra (extração em fase sólida em cartucho e extração líquido-líquido e suas limitações, bem como a microextração líquido-líquido dispersiva, extração com Soxhlet com suas limitações, extração com ultrassom, extração QuEChERS, como exemplos), a utilização de técnicas analíticas apropriadas (no caso de contaminantes orgânicos, cromatografia gasosa – GC, cromatografia líquida de alta eficiência – HPLC e espectrometria de massa – MS na análise de traços, além das técnicas conjuntas) e metodologia analítica validada para a determinação dos contaminantes-alvo, diminuindo, assim, os pontos de erro no trabalho. Por fim, a efetiva interpretação do conjunto de resultados obtidos.
No planejamento de amostragem, a etapa de campo e análise compreende desde a distribuição dos contaminantes em uma determinada região até as técnicas de amostragem, manipulação e preparo das amostras, seguidas das análises laboratoriais e do manejo dos dados. Cabe comentar que a coleta de uma amostra ambiental não é trivial. A escolha dos pontos e frequências de amostragem, além do número de amostras, são fontes de incerteza no estudo analítico de monitoramento e na obtenção de uma amostra representativa para a avaliação de risco, pois os compostos podem estar distribuídos de forma não homogênea na região. Neste cenário de dados, deve-se estabelecer também o nível de confiança desejado para a correta identificação do analito, a concentração pela qual o analito pode ser identificado em uma amostra, bem como o transporte, armazenamento, estabilidade e conservação das amostras a serem analisadas.
Na sequência, a avaliação dos efeitos dos contaminantes consiste na determinação da relação entre a dose ou o nível de exposição a uma substância e a incidência/gravidade de um determinado efeito. Para tanto, deve-se estabelecer o nível de concentração que poderá causar efeitos agudos ou crônicos. No caso de uma substância produzir diferentes efeitos tóxicos, podem ser verificadas diferentes relações de dose-resposta de uma substância. Para tanto, devem ser analisados dados obtidos a partir das relações estrutura-atividade; de estudos experimentais in vitro, em plantas ou animais de laboratório; de estudos epidemiológicos de ecossistemas e populações humanas; ou combinações de todas essas possibilidades de dados.
A caracterização do risco químico no meio ambiente deve considerar a concentração de efeito não previsto – PNEC, ou seja, quando a concentração ambiental de um contaminante se encontra abaixo da qual efeitos adversos inaceitáveis ao ecossistema provavelmente não ocorrerão. Cabe ressaltar que o PNEC não se trata de uma concentração abaixo da qual não se prevê nenhum efeito, assim como não se trata de uma concentração segura. O PNEC pode ser utilizado tanto em eventos adversos com toxicidade aguda, que se relaciona com a mortalidade ou imobilidade, como em toxicidade crônica, com impactos na reprodução, crescimento, sobrevivência e comportamento, que são ensaios de longa duração, em mais de uma fase de vida.
É imprescindível a construção e utilização de uma base de dados ecotoxicológicos para determinar a concentração do “end point”, perante a curva de efeito em função da concentração (LD50, EC50, NOAEC e LOAEC) e, consequentemente, o PNEC, sejam eles gerados pelos fabricantes dos produtos importados, órgãos governamentais e/ou artigos científicos. Quanto maior a quantidade desses dados para uma dada substância química, maior a confiabilidade da caracterização de risco. Dessa forma, os efeitos adversos ao ecossistema são previstos de ocorrerem sempre que a concentração ambiental medida de um contaminante for maior do que o valor do PNEC. Em seguida, recomenda-se caracterizar o índice de risco pela comparação do valor da concentração de exposição, quando medida no ambiente (measured environmental concentration – MEC), com aquele obtido no cálculo do PNEC. Assim, considera-se que existe a possibilidade de efeitos adversos ocorrerem sempre que o MEC for maior do que o PNEC.
Para os profissionais que estejam iniciando no estudo de análise de risco de contaminantes, recomendamos o documento de orientação técnica Technical Guidance Document (TGD) on Risk Assessment, acessado em 10/06/2025, da Comissão de Serviços, Indústria e Grupos de Interesse Público, em cooperação com os Estados-Membros da União Europeia, sobre a avaliação dos riscos das substâncias químicas para a saúde humana (parte 1) e ecossistema (parte 2). Destina-se a apoiar as autoridades competentes para a realização da avaliação de risco ambiental para substâncias novas e existentes.
Como arremate, dentre os desafios associados à análise dos contaminantes ambientais, destacam-se a existência de inúmeras substâncias químicas no meio ambiente; frequentemente, o estudo envolve a análise de um grande número de amostras; as matrizes ambientais (água, solo, ar, tecidos de organismos, como exemplos) são complexas, não homogêneas, e as interferências de matriz são variáveis, nem sempre previsíveis; as concentrações químicas são geralmente muito baixas, exigindo instrumentos confiáveis, capazes de detectar os contaminantes em ppm, ppb, ppt ou ainda em níveis mais baixos; e os analistas precisam tanto de competência técnica quanto de conhecimento de regulamentos e normas específicas.
Fonte: https://cfq.org.br/noticia/analise-de-risco-quimico-e-toxicologia-ambiental-ganham-destaque-na-48a-rasbq/
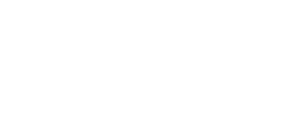
Conselho Regional de Química 2ª Região
Minas Gerais
Av. Nossa Senhora do Carmo, 651 - Carmo, Belo Horizonte - MG - 30330-000
(31) 3279-9800 / (31) 3279-9801